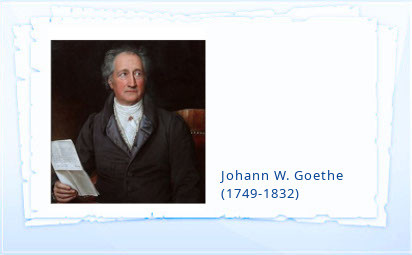CEM ANOS!
II — Pessoas com História
Após o termo da monarquia precedente, a República herdava um legado com duas grandes ordens de preocupações que passaram a dominar a atenção das classes cultivadas: a pobreza profunda e generalizada de uma população constituída por quase oitenta por centro de iliteracia associada a um fraco desenvolvimento industrial e uma dívida interna e externa acentuada, a par de uma censura à imprensa, temporária, ainda que intensa.
As razões do gradual declínio do país como potência mundial, que era no início no século XVI, têm sido estudadas por diversos investigadores. Foram apontadas diversas causas, desde factores económicos e sociais à preguiça das classes altas (1)!
Houve até quem o considerasse um desígnio nacional com raízes numa assinalada e generalizada indiferença pelo progresso e renovação — ainda evidente no início do século XX — numa sociedade que se compunha de dois elementos básicos: as massas rurais, passivas e indiferentes ao progresso, como se a esperança se tivesse esgotado num país assaltado por negras perspectivas e, do outro lado, a submissão imposta sob a forma de opinião pública dirigida e capaz de avalizar todas a políticas destinadas a resolver problemas práticos da sociedade.
Todavia, as explicações desta decadência mais bem acolhidas, como as de Vitorino Magalhães Godinho, opõem-se claramente às opiniões que acentuam causas políticas, antropológicas ou psicológicas e defendem, sobretudo, o ambiente socioeconómico que dificultou as reformas desejáveis no período pós 1550 (2).
Mas terá sido apenas a natureza humana a grande responsável por aquelas dificuldades? Numa discussão histórica sobre o declínio do país depois do século XVI não se deve ignorar o facto de, em todas as realizações materiais e todas as possibilidades alcançadas no progresso de qualquer sociedade, a iniciativa pessoal é sempre fundamental para o despertar da produtividade.
(…)
De facto, quem estudar a história da filosofia, das ciências, das artes, etc., encontrará facilmente um pequeno número de pessoas dotadas que, ao longo dos séculos, puseram em ordem o pensamento próprio e alheio e acrescentaram algo para os vindouros ponderarem. E, no que se refere à sua acção directamente orientadora dos destinos das sociedades, pode dizer-se que foi sempre muito limitada e contrariada de forma mais ou menos violenta. Os poderes, quer políticos quer religiosos, estiveram sempre nas mãos de pessoas menos dotadas, muito dados à vida social mas carentes de imaginação criadora. Tais dirigentes ou dignitários, além da acção política ou litúrgica, limitavam--se a repetir, conscienciosamente, as ideias imaginadas e explanadas, uma ou várias gerações atrás, pelos referidos espíritos inovadores. Era assim que a capacidade inovadora, além de ser um bem raro, acabava por surgir, e muito especialmente no âmbito político e social, com irreparáveis atrasos no calendário nacional.
Este atraso teve, como sabemos, penosas consequências. Ainda que tivessem ocorrido iniciativas válidas e em tempo útil, só teriam merecido a atenção dos políticos, e ainda com reticências, numa fase quase irreparável ou mesmo inviável de aplicação prática. Os remédios que podiam ser eficazes, mas já estavam fora de prazo e sem eficácia alguma.
É estranho, por isso, verificar até que ponto enormes recursos, instituições diversas, e até a organização científica e um complexo de instituições públicas de custo incalculável, dependem, ainda hoje, na sua sobrevivência, tal como no passado, do que irão decidir algumas pessoas consideradas dotadas, das quais se espera solução para uma infinidade de problemas aparentemente insolúveis. Um panorama dramático que parece dar razão àquele irónico projecto que Cottinelli Telmo (1897-1948) alvitrava projectar: o Monumento à Hesitação.
A espantosa consequência deste conformismo, indiferença e passividade, características do passado, acabou por se confrontar com a reacção das populações mais cultas, e até medianas, frente às perspectivas destituídas de sentido e de realismo — ou seja, dos que perceberam que o panorama edílico do país, como defendia Ramalho Ortigão, era, de facto, uma mistificação que apenas servia para ocultar a crise socioeconómica do país.
Na segunda década do século passado, numa fase de progressiva industrialização, alfabetização e melhoria do nível de vida das populações urbanas de Portugal, evidenciou-se, no jornalismo nacional, uma nova estratégia: passou a incluir nas capas notícias mais atraentes, de “interesse humano” e de eventos de grande impacto. Punha em relevo, por exemplo, o modo como os representantes-agentes do Poder, enquanto forma de condicionar o comportamento das pessoas, se envolviam com o elemento religioso, mostrando-se solidários e com apoio mútuo: uma união a que Almeida Garret, com a sua reconhecida elegância, chamou Aliança do Trono e do Altar (3). É este ambiente que inspira Eça de Queiroz escreveu o excelente registo estético do meio social da época: O Crime do Padre Amaro.
No que respeita à imprensa regional, essa tornou-se o espelho social e religioso das suas localidades. Fez eco de abusos e práticas que ofendiam as consciências. Mas também deu voz a escritos doutrinários por vezes veementes, como os de Alexandre Herculano a pugnar por uma opinião pública livre, ilustrada e crítica.
(…)
Foi neste ambiente cultural que nasceu a revista ROSACRUZ, ainda recheado dos mesmos conflitos de natureza cultural e ideológica que vinha de longo passado, marcado, por um lado, por uma clara distinção entre o que era considerado santo/religioso ou profano e, do outro lado, pelas atitudes e expressões típicas dos entusiastas do chamado laicismo, ou secularismo, formas de pensamento fechado e indiferente a assuntos de natureza espiritual (4).
(…)
Não se identifica, até esta altura, em todas as transformações filosóficas e ideológicas ocorridas no país, nenhuma iniciativa estável que permitisse a confluência e servisse de denominador consensual aos racionalistas críticos, espiritualistas e materialistas, coexistir e conversar. A consciência desta limitação estimulou uma iniciativa destinada a (re)unir os que andavam dispersos e dar voz ao que devia ser afirmado.
(…)
Em reunião ocorrida nessa altura, Florindo Costa e Hermenegildo Costa disponibilizaram-se para definir uma directriz orientada para a fundação de um veículo periódico de difusão da filosofia rosacruciana, a que se deu o nome de ROSACRUZ, como órgão oficial da Fraternidade Rosacruz de Portugal. E também aceitaram as funções de, respectivamente, Redactor e Administrador e Editor. Acordaram igualmente diligenciar no sentido de instalar uma estrutura que permitisse reunir os possuidores de uma cultura rosacruciana, já mais ou menos dispersa, parte da qual vinculada à obediência ou jurisdição que se manifestava predominantemente no Reino Unido e com fortes raízes e repercussões nas regiões Germânicas.
Dois anos decorridos, ainda Florindo Costa ainda se esforçava pela emancipação intelectual que permitisse diferenciar a luz do obscurantismo, o dogmatismo da investigação, sempre em nome da vantagem de uma espiritualidade que não se confundisse com a simples prática de uma moral racional como solução para o espírito realizar e assumir, conceptualmente, a consciência de si. Florindo Costa faleceu em 1931. O número de Agosto de 1930 foi último da sua direcção.
Em cerimónia realizada e Outubro de 1939 foi homenageado pela forma como promoveu e enobreceu a revista cuja publicação assegurou com inexcedível zelo e alheio aos sacrifícios pessoais (5).
Augusto Maria da Silva Flores (1877-1956) assumiu prontamente a tarefa de publicar a revista como Director, Editor e Administrador. Cumpriu a sua missão com exemplar denodo e dedicação ao longo de quase 22 anos. Foram tempos difíceis com sucessivas adversidades a evidenciar uma enorme capacidade de resiliência.

Augusto Flores foi integrado no contingente militar do CEP, Corpo Expedicionário Português, que, de acordo com as negociações ocorridas em 1916, deveria ser integrado no quadro do exército inglês. Mas o acordo não seria cumprido como previsto e as vicissitudes tiveram início logo nos procedimentos de embarque e transporte, ocorrido em Setembro de 1917. Em 18 (?) de Outubro iniciou as diligências que lhe foram confiadas junto da “Escola Inglesa”. Regressado ao país, passaria mais tarde à Reserva com a patente de Major. No seu Boletim Individual que ficou arquivado no Quartel-General da Base, com data de 13 de Julho de 1920, consta o registo de diversas medalhas e louvores.
Numa altura em que a espiritualidade pós-moderna ainda estava distante, o seu esforço orienta-se não apenas para o alerta de uma a expansão científica e tecnológica que se adivinhava, como para a inevitável mudança das estruturas de pensamento associadas à correspondente mutação das mentes, o que, na época, mais parecia uma narrativa tendente a moldar a realidade do que uma reflexão de uma ocorrência iminente.
E alertava repetidamente para as novas formas de pensamento religioso que, inevitavelmente, iriam despertar como fruto da consciência do espírito já capaz de harmonizar o aperfeiçoamento espiritual com o desenvolvimento intelectual e, ao mesmo tempo. de passar da fé tradicional à experiência espiritual.
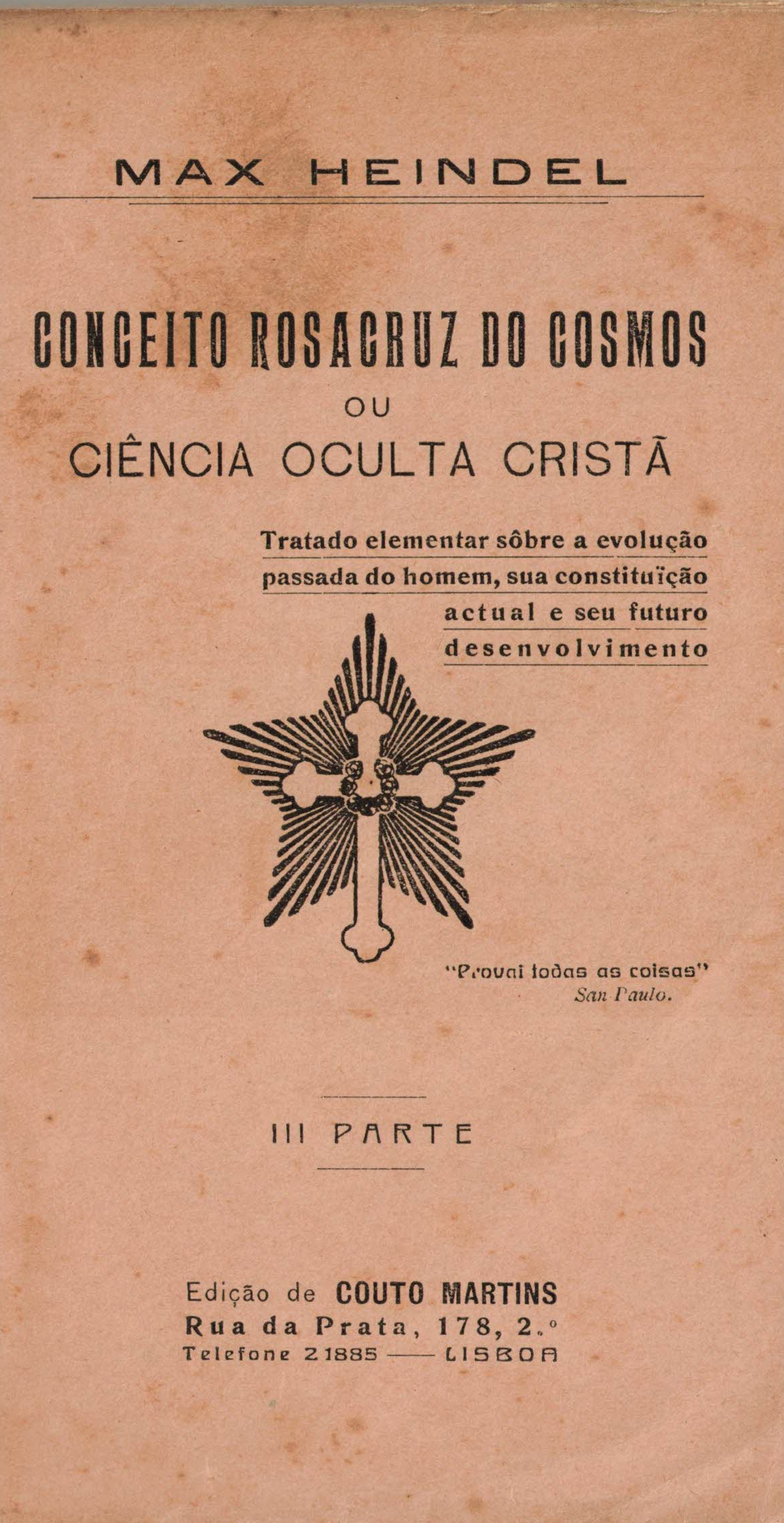
A sua dedicação e dinamismo evidenciou-se desde logo pelo modo como procurou evitar que os nossos princípios, as nossas preocupações, as nossas motivações, se mantiveram adormecidos numa altura que as mudanças sociais eram evidentes e profundas e os princípios institucionais, preocupações e motivações, pareciam manter-se adormecidas.
Em 1937 este programa de acção pareceu suficientemente interessante para merecer a atenção de Curuppumullage Jinarajadasa (1875-1953), uma individualidade conhecida nos círculos académicos e esotéricos da Europa e América, que solicitou uma reunião. Ocorreu no ano seguinte, em Lagos. No decorrer do ágape que se seguiu fez um elogio a Max Heindel, de quem era amigo e cooperador referindo--se ao enriquecedor relacionamento que lhe foi proporcionado nesse convívio (6).
O estudo de C. Jinarajadasa sobre Química Molecular terá contribuído para as descobertas que proporcionaram a Francis William Aston (1877-1945) o Prémio Nobel da Química, em 1922.
Aproximava-se uma fase grande dinamismo para a revista, com um período de assinalável crescimento que, associada a crises e desafios constantes, teve um saldo claramente positivo.
É o que iremos ver no próximo número.
F. M. C.
(1) Douglas L. Wheeler, História Política de Portugal, 1910-1926; Publicações Europa-América, 2010, p. 25.
(2) cId., Ob. cit., p. 28.
(3) Almeida Garret, Portugal na Balança da Europa; Empreza da História de Portugal, Lisboa, 1904, p. 29.
(4) Fernando Catroga, O Laicismo e a Questão Religiosa em Portugal (1865-1911); Análise Social, Vol. XXIV (100), 1988 (1.°), 211-273.
(5) [Nota RR Setembro-Outubro de 1939, pp 43-44]
(6) Revista Rosacruz, Janeiro-Fevereiro de 1938, p. 12].